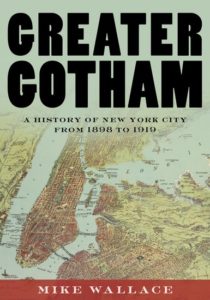Em fevereiro de 1915, a revista Nation tinha feito um ensaio em duas partes, “Democracy versus the Melting Pot: A Study of American Nationality”, de Horace Kallen, professor de filosofia na Universidade de Wisconsin, em Madison. Em um desafio frontal ao movimento de americanização, Kallen argumentou que ele promovia não uma fusão de muitas culturas, mas a predominância de uma. “Judeus, eslavos, poloneses, franceses, alemães, hindus, escandinavos e assim por diante” deveriam ser transmutados pelo “‘milagre da assimilação’ em seres semelhantes em fundo, tradição, perspectiva e espírito aos descendentes dos colonizadores britânicos, a linhagem anglo-saxônica”. Os anglo-americanos, na sua aparência de ur-americanos, supostamente governam por direito de “primogenitura cultural”. Os primeiros imigrantes, pelo acidente de serem os primeiros, tinham se tornado uma aristocracia, defensores “do orgulho do sangue”. Isso não era apenas anti-democrático, mas também autoritário, já que a resistência da etnia subordinada era enfrentada com medidas coercivas como o sistema escolar público anglo-supremacista, que tentava erradicar os velhos costumes do país esmagando o espírito dos alunos imigrantes.
Por que os americanizadores agiram dessa forma? Até certo ponto, foi uma simples questão de interesse próprio; muitas vantagens se acumularam para o filho primogênito em uma cultura patriarcal. Mas Kallen acreditava que a justificação também repousava numa confusão sobre a relação entre o Estado e a sociedade civil. Os anglo-americanos supunham que a sobrevivência da nação dependia da uniformidade cultural, como acontecia nos países europeus. Uma nação dividida contra si mesma não podia suportar. A dupla lealdade era uma contradição inadmissível em termos.
Para Kallen este era um falso dilema. Havia uma diferença fundamental, argumentou ele, entre uma “nação de nações” e uma “confederação de culturas”. Era este último termo que resumia mais precisamente o estatuto peculiar dos Estados Unidos, um país construído através de uma reunião de povos. As várias “culturas” (também conhecidas como “raças” ou “etnias” ou “nacionalidades”) foram os blocos de construção da sociedade civil. Cada grupo étnico expressou a sua vida emocional e voluntária na sua própria língua, usando as suas próprias formas estéticas e intelectuais. Seus enclaves eram os locais de suas relações sociais mais íntimas, as fontes mais profundas de identidade cultural, o domínio da religião e do parentesco, e o terreno dentro do qual o cidadão “vive e se move e tem seu ser”
O estado era uma coisa totalmente diferente. Ele forneceu o quadro e manteve as regras do sistema político democrático, e seus procedimentos foram devidamente transacionados em inglês, a língua franca da Comunidade. O papel do Estado, que não deveria pertencer a nenhuma etnia particular, era o de garantir a existência independente das suas partes sócio-culturais componentes. O negócio do Estado não era impor a homogeneidade, mas proteger a diferença. Seu lema, poderia ter dito Kallen, não deveria ser E Pluribus Unum (De Muitos, Um), mas In Uno Plures (Em Um, Muitos).
O processo de americanização também poderia fazer com uma metáfora melhor, o pensamento de Kallen – não o cadinho de Zangwillian, mas uma orquestra sinfónica:
Como numa orquestra, cada tipo de instrumento tem o seu timbre e tonalidade específicos, fundados na sua substância e forma; como cada tipo tem o seu tema e melodia apropriados em toda a sinfonia, assim na sociedade cada grupo étnico é o instrumento natural, o seu espírito e cultura são o seu tema e melodia, e a harmonia e dissonâncias e discórdias de todos eles fazem a sinfonia da civilização.
O foco de Kallen, com certeza, foi quase completamente a peça “harmonia”, assim como o de Zangwill; ele esperava que “‘civilização americana’ possa vir a significar a perfeição das harmonias cooperativas da ‘civilização européia’, o desperdício, a miséria e a angústia da Europa sendo eliminada.”
De forma mais ampla, Kallen achou a visão anglo-conformista profundamente errada ao desprezar precisamente o que era mais notável sobre a sociedade multicultural que tinha surgido, não planejada, na vertente americana. E em 1915, com os defensores da americanização ganhando força, parecia a Kallen que o país estava se aproximando de uma encruzilhada. O que queremos que os Estados Unidos sejam, perguntou ele, “uma uníssono, cantando o velho tema anglo-saxão”, ou “uma harmonia, na qual esse tema será dominante, talvez, entre outros, mas um entre muitos, não o único?”
O ensaio de Kallen atraiu a atenção de outro titã do pragmatismo, John Dewey, que tinha conhecido em Cambridge em 1905 ou 1906. Kallen encontrou uma correspondência com o filósofo baseado em Columbia, e continuou-a quando aceitou um cargo de professor na Universidade de Wisconsin. Kallen também visitou Dewey em Nova York. Durante o verão de 1917, ele ensinou na Columbia a convite de Dewey, e foi convidado de volta na primavera de 1918 para dar um curso de palestras, após o qual ele se estabeleceu em Gotham permanentemente.
Ao responder ao ensaio de Kallen, tanto em correspondência pessoal como em ensaios públicos, Dewey concordou fortemente com grande parte da análise. “Eu nunca me importei com a metáfora do cadinho”, disse ele. “Manter que todos os elementos constituintes, geográficos, raciais e culturais nos Estados Unidos deveriam ser colocados no mesmo pote e transformados num produto uniforme e imutável é de mau gosto”. De fato, “o conceito de uniformidade e unanimidade na cultura é bastante repugnante”
Ele também concordou que a campanha de “americanização” era uma cobertura para os anglo-supremacistas. “Eu quero ver este país americano”, escreveu Dewey Kallen, “e isso significa que a tradição inglesa foi reduzida a uma tensão entre outras”. Em um ensaio de 1916 ele sublinhou isto, usando a metáfora preferida de Kallen, insistindo que “Nem o Englandism nem o NewEnglandism, … mais do que Teuton ou Slav, podem fazer tudo menos fornecer uma nota numa vasta sinfonia”. “
Dewey também aceitou que “nossa unidade não pode ser uma coisa homogênea como a dos estados separados da Europa”. “Hifenismo” era para ser bem-vindo. “A variedade é o tempero da vida, e a riqueza e a atratividade das instituições sociais dependem da diversidade cultural entre unidades separadas”. Na medida em que as pessoas são todas iguais, não há dar e receber entre elas. E é melhor dar e receber”. Os Estados Unidos devem extrair “de cada povo o seu bem especial, para que se renda a um fundo comum de sabedoria e experimente o que especialmente tem a contribuir”. Todas estas rendições e contribuições em conjunto criam o espírito nacional da América.” Só neste sentido é que a assimilação foi aceitável. De fato, “a assimilação genuína uns aos outros – não ao anglo-saxão – parece ser essencial para um americano”. Que cada secção cultural deve manter as suas tradições literárias e artísticas distintas parece-me mais desejável, mas para que possa ter mais para contribuir com as outras”
Dewey teve algumas reservas sobre o argumento de Kallen. Para um, ele parecia assumir que a harmonia era o estado padrão das relações inter-étnicas. “Concordo bastante com a sua ideia de orquestra”, explicou Dewey, “mas com a condição de termos realmente uma sinfonia e não um monte de instrumentos diferentes tocando simultaneamente”. A obrigação cívica não foi suficientemente enfatizada no pluralismo de Kallen, focalizada como foi nas partes e não no todo.
Provincialismo foi uma segunda preocupação. “O perigoso é que cada fator se isole, tente viver do seu passado e depois tente se impor a outros elementos, ou pelo menos se mantenha intacto e assim se recuse a aceitar o que outras culturas têm a oferecer”. Este sapato encaixa-se melhor nos anglos, com certeza, mas qualquer etnia pode cair vítima de lealdades estreitas e preconceitos paroquiais.
Então houve a ênfase de Kallen na continuidade étnica e não na mudança. Kallen insinuou que a etnia era virtualmente inconfundível, e sugeriu que os americanizadores tinham sido induzidos a pensar que eram facilmente remoldáveis porque se concentravam em externalidades superficiais. Era verdade, argumentou Kallen, que os principiantes abraçaram frequentemente a assimilação como uma estratégia económica e adoptaram o discurso, as roupas e os modos americanos. Mas quando o imigrante atingiu um certo nível de aceitação e estabilidade, a assimilação abrandou, até parou, e os ideais de nacionalidade ressurgiram. O “wop muda para um italiano orgulhoso; o hunky para um eslavo nacionalista orgulhoso”. Às vezes Kallen parecia sugerir uma base biológica para essa estase, com sua conversa sobre “dotes ancestrais”, embora ele nunca tenha entrado no território de Madison Grant, e seu foco na fixidez pudesse ser colocado para obviar culturas.
Um ano após o ensaio da Nação de Kallen, uma objeção mais dinâmica à metáfora do caldeirão foi avançada por Randolph Bourne, um conhecido de Kallen e um discípulo de Dewey. Bourne não era um académico, mas um jornalista e membro autodescrito da “intelligentsia mais jovem” de Nova Iorque, mas as suas relações com a Columbia College tinham sido transformadoras. Ele teve uma infância difícil em Bloomfield, New Jersey, onde sofreu com o colapso da fortuna familiar no pânico de 1893 e com múltiplas deficiências físicas: suas feições haviam sido gravemente alteradas por um fórceps ao nascer, e ele havia desenvolvido um corcunda a partir de um surto de tuberculose espinhal na idade de 4,
Em 1909, Columbia lhe forneceu uma bolsa de estudos acadêmica completa. Lá ele foi introduzido aos escritos de James e Boas, desenvolveu a política socialista em parte através de suas aulas com Beard, e se tornou um estudante de Dewey, vendo em seu pragmatismo “uma vantagem que cortaria os hábitos de pensamento, os costumes e as instituições em que nossa sociedade tem vivido por séculos”. Após graduar-se em 1913, ele passou um ano na Europa, depois mudou-se para a Aldeia e juntou-se à cena radical. Conseguiu um emprego na Nova República e publicou lá em 1915 a sua série de artigos aplaudindo o Plano Gary. Mas, sentindo-se marginalizado, recorreu a outras revistas e, em julho de 1916, deu sua “Trans-National America”, uma peça inspirada no trabalho de Kallen, ao Atlantic Monthly.
“Nenhum efeito reverberatório da grande guerra”, correu sua frase inicial, “causou à opinião pública americana mais solicitude do que o fracasso do ‘melting-pot'” . . . Tivemos que ver os brâmanes de coração duro virtuosamente indignados com o espetáculo do imigrante recusando-se a ser derretido… Tivemos que ouvir os publicitários que se expressam como atônitos pela evidência de vigorosos movimentos tradicionalistas e culturais neste país entre alemães, escandinavos, boêmios e poloneses, enquanto no mesmo fôlego eles insistem que o estrangeiro será forçosamente assimilado àquela tradição anglo-saxônica que eles inquestionavelmente rotulam de ‘americano’.””
Aparar mais vigorosamente do que teve Kallen – talvez por si mesmo – sendo de origem inglesa antiga – rachado na hipocrisia anglo-americana. A verdade era “que não foi demonstrada por nenhuma nação estrangeira uma lealdade cultural mais tenaz à pátria mãe” do que pelos descendentes de anglo-saxões nos Estados Unidos. “Os snobes ingleses, a religião inglesa, os estilos literários ingleses, as reverências e cânones literários ingleses, a ética inglesa, as superioridades inglesas, têm sido a comida cultural que temos bebido dos peitos das nossas mães.” A guerra tinha exacerbado tais sentimentos, revelando os anglos a serem “ainda amáveis as coisas inglesas, devido à lealdade ao Kultur inglês, movidos por shibboleths e preconceitos ingleses”. É apenas porque tem sido a classe dominante neste país … que não temos ouvido copiosamente e desdenhosamente os ‘hifenizados ingleses-americanos'”. Na verdade, o elemento anglo-saxão “é culpado do que toda raça dominante é culpada em todos os países europeus: a imposição de sua própria cultura aos povos minoritários”
Felizmente, a americanização tinha falhado. “Os fortes movimentos culturais representados pela imprensa estrangeira, escolas e colônias” foram posicionados para salvar os Estados Unidos da estagnação cultural, justamente porque eles “não foram derretidos ou correram juntos, transformados em algum americanismo homogêneo”. Pelo contrário, o país tinha-se tornado “uma federação cosmopolita de colónias nacionais, de culturas estrangeiras, das quais foi retirado o aguilhão da competição devastadora”. A América já é a federação mundial em miniatura, o continente onde pela primeira vez na história se conseguiu aquele milagre da esperança, a convivência pacífica lado a lado, com carácter substancialmente preservado, dos povos mais heterogéneos sob o sol”. A América, afirmou Bourne, “é um tecido sociológico único, e é uma pobreza de imaginação não se emocionar com as incalculáveis potencialidades de uma união de homens tão nova”.”
Se “a América está vindo a ser, não uma nacionalidade, mas uma transnacionalidade, uma tecelagem para frente e para trás, com as outras terras, de muitos fios de todos os tamanhos e cores”, então Bourne argumentou, que “qualquer movimento que tente frustrar esta tecelagem, ou tingir o tecido de qualquer cor, ou desembaraçar os fios dos fios, é falso a esta visão cosmopolita”. O transnacionalismo era o antídoto para o nacionalismo “beligerante, exclusivo, consanguíneo”, “o veneno do qual estamos assistindo agora na Europa”. Por isso ele era “quase fanático contra os programas actuais do americanismo, com a sua preparação, recrutamento, imperialismo, questões de integração, a sua imitação servil dos nacionalismos europeus que se estão a matar uns aos outros diante dos nossos olhos”
__________________________________
>